Toda Semana, um Idoso Enviava Cartas do Asilo — Até que Descobri que o Destinatário Era Parte da Minha Própria História
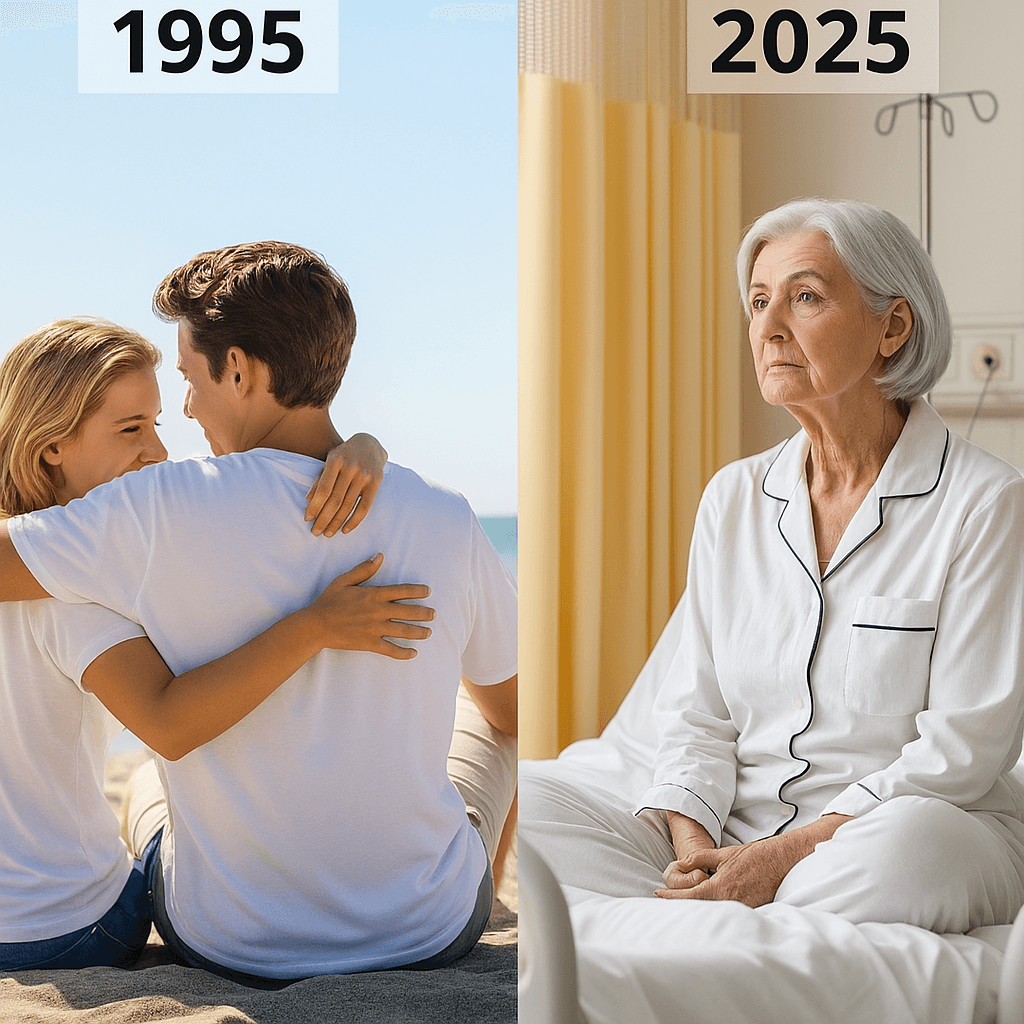
Trabalhava em um asilo há cinco anos.
Nunca foi glamouroso, mas sempre amei o que fazia. Havia algo de profundo em conviver com pessoas cujas vidas atravessaram décadas.
Jogávamos xadrez, cantarolávamos músicas dos anos 50 e às vezes fazíamos piqueniques no jardim, com cobertores antigos e copos de limonada.
Mas um morador sempre se destacava: Eliot.
Apenas Eliot. Nada de “senhor”. Ele deixava isso bem claro.
— Me chamar de “senhor” de novo e vou começar a cobrar aluguel por cada sílaba — disse uma vez.
Nos demos bem desde o começo.
Ele tinha uma língua afiada e um humor seco.
— Meias azuis hoje, Jane? — comentou certa manhã. — É assim que começam as maldições.
Mas por trás das piadas, havia solidão.
Eliot nunca recebia visitas. Nunca.
Ao longo dos anos, perguntei com delicadeza, sem forçar.
— Sem família?
— Nunca tive — respondeu sem rodeios.
— E velhos amigos?
Ele deu uma risada vazia.
— Os amigos somem um a um. Depois todos de uma vez, quando você deixa de ser conveniente.
Mas o que mais me marcava não era a solidão dele — eram as cartas.
Todos os sábados, pontualmente às nove, Eliot se sentava à mesa e escrevia.
Silenciosamente, com cuidado, letra a letra.
Depois selava o envelope, escrevia algo na frente e deixava na janela.
— Me lembra de levar ao correio depois — dizia. — Preciso fazer isso eu mesmo.
— Eu posso levar para você — ofereci mais de uma vez.
— Não. Por favor, não insista.
E eu respeitava.
Mas a curiosidade é do tipo que cresce em silêncio, e Eliot nunca recebia resposta.
Num sábado, depois que ele saiu do quarto, não resisti.
Com as mãos trêmulas, troquei o envelope por um em branco.
O original dizia:
“Para E.H. Para sempre seu amigo, Eliot.”
Havia um endereço — uma cidade a uns 90 minutos dali.
As iniciais E.H. me pareceram estranhamente familiares.
Não consegui parar de pensar naquilo.
A carta pesava no meu bolso o dia todo.
No fim de semana, decidi:
Peguei o envelope, coloquei na bolsa e saí mais cedo, com o coração disparado.
Dirigi com as janelas abertas, o vento bagunçando o cabelo, relendo o endereço a cada farol.
Quando finalmente parei em frente à casa, os nervos estavam à flor da pele.
Um homem atendeu à porta.
— Oi — disse, sem saber como começar. — Pode parecer estranho, mas trabalho em um asilo, e um dos nossos moradores envia cartas para este endereço há anos.
O homem ergueu a sobrancelha e chamou por alguém:
— Marlene, vem ouvir isso.
Uma mulher surgiu com uma tigela de massa de biscoito nas mãos.
Entreguei o envelope. Eles olharam, depois se entreolharam.
— Essa mulher se mudou há décadas — disse o homem. — Ela vendeu a casa para nossos pais.
— Sempre ficamos curiosos com essas cartas — disse a mulher. — Nunca joguei fora. Pareciam… importantes.
Ela voltou com uma caixa de sapatos cheia de envelopes — todos escritos à mão.
Fiquei ali, com a garganta apertada.
Agradeci e saí ao sol, o coração ainda inquieto.
Logo adiante, passei por uma placa enferrujada:
“Luna Park – Fechado.”
Parei. Aquele nome… eu já tinha visto antes.
Numa foto de infância.
Corri para a casa da minha mãe. Entrei quase sem bater.
Ela me olhou da cozinha.
— Você chegou cedo. Quebrou o carro ou o coração?
— Nenhum dos dois. Preciso dos álbuns de fotos.
Ela me lançou um olhar curioso.
— Os que você sempre tenta levar escondido?
— Sim. Por favor.
Ela pegou uma caixa empoeirada do armário:
“Emily – 1990–1995.”
Sentei no chão e virei as páginas até achar:
Eu, em um carrossel no Luna Park. E, ao fundo, a mesma placa.
— Onde foi tirada essa foto? — perguntei.
Ela olhou de relance e depois congelou.
— Antes de nos mudarmos.
— Mudamos de onde?
— Outra cidade. Não ficamos muito tempo.
Mostrei o envelope.
— É o mesmo endereço. A mulher para quem ele escrevia — E.H. — é você, não é? Emily H****r.
Sua mandíbula se fechou.
— Muita gente tem essas iniciais.
— Não mente. Você conheceu o Eliot.
— Já chega.
— Quem ele era?
Ela virou de costas.
— Ele me abandonou. Eu estava grávida e sozinha.
— O Eliot é meu pai?
Ela hesitou.
— Sim.
— Você disse que ele estava morto.
— Eu menti. Não sabia como explicar.
— Ele ainda espera por você.
Ela ficou em silêncio.
Saí dali em silêncio também — com a carta na mão e a verdade no peito.
De volta ao asilo, Eliot estava sentado, brincando com um biscoito.
— Você tem visita — avisei.
— O que foi? Meu oficial de condicional?
— Não. Alguém de verdade.
Voltei mais arrumada. Ele levantou os olhos, confuso.
— Qual o motivo da roupa elegante?
— Eu sou a visita.
Ele me olhou, sem entender.
— Do que está falando?
— Eu li uma de suas cartas. Eu a encontrei.
Ele prendeu a respiração.
— Você… o quê?
— Ela nunca recebeu as cartas. A casa foi vendida. E… ela é minha mãe.
Ele me encarou, surpreso.
— Então você…
— Eu sou sua filha.
Sua voz falhou.
— Você é igualzinha a ela.
Então a porta se abriu. Minha mãe entrou.
— Eu não ia vir — disse baixinho. — Mas li suas cartas.
Eliot se levantou, devagar.
— Nunca parei de escrever.
— Eu sei — ela respondeu.
As lágrimas me escorriam. Me aproximei.
— Podemos só… nos abraçar?
E pela primeira vez em três décadas, nos abraçamos.
Juntos. Como uma família.



